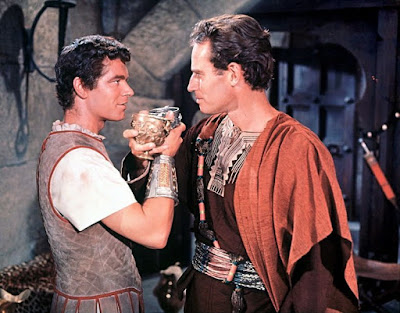Com o mês de Terrence Malick n'O Sétimo Continente a chegar ao fim publico hoje uma reflexão pessoal sobre a sua obra, escrita por Rúben Gonçalves. Um muito obrigado por esta colaboração.
_____
Power dwells apart in its tranquility,
Remote, serene and inaccessible,
And this the naked countenance of earth
On which I gaze, even these primeval mountains,
Teach the adverting mind.
Percy Bysshe Shelley
Conheci Malick numa altura em que não fazia ideia do que era o cinema. Já se passaram anos desde que vi pela primeira vez “The New World”, e, embora me seja difícil descrever a impressão que o filme me suscitou logo depois dos créditos finais, tenho a certeza de a experimentar, renovada, sempre que o revejo. Não me preocupo muito em tentar precisar no que consiste essa impressão, mas o hábito – e a visualização de obras de semelhante calibre – mostrou-me aos poucos que é ela o meu único critério para avaliar um filme, ou o que dele em mim ecoa: esses momentos imediatamente a seguir à última imagem e ao último som, em que me sinto como que renascido, ridiculamente omnipotente e desperto – a grandeza deixa-me sempre assim. E, com a suspeita de me ter sido revelada uma qualquer verdade que, embora oculta até aí, de alguma forma sempre existiu em mim – como todas as verdades merecedoras do nosso esforço de as descobrirmos –, desligo a televisão (só o “Tree of Life” tive oportunidade de ver em grande ecrã) e despeço-me da vida, pois que é ela senão esses breves contactos com a beleza?
Ora, não se pode falar deste realizador sem se mencionar aquilo que parece ser o tema de onde partem todos os seus filmes, e sobre o qual cada um oferece novas perspectivas: a relação que o homem – o soldado solitário, o forasteiro a descobrir o que aparenta ser o paraíso perdido, o amante em fuga – estabelece com a natureza. As suas personagens são constantemente atormentadas por um desejo de evasão, uma necessidade de se refugiarem daquilo que provoca a manifestação das suas facetas malignas, a busca pela redenção através da familiarização com a natureza, com as origens, que coincide, por vezes, com a promessa de um novo começo. A catarse – ou a possibilidade dela – reside em Malick na paisagem, no confronto com os elementos que universalmente constituem todos os seres, as leis que tudo regem, confronto esse que resulta, não raramente, na negação das ilusões que as personagens vinham acalentando e consequente constatação de que a verdade é afinal aquilo de que eles procuravam fugir. Tal acontece em “Days Of Heaven”, em que o retiro da cidade, da civilização – embora não por completo, como vemos, por exemplo, em “Badlands” – não mitiga os impulsos homicidas do protagonista vivido por Richard Gere, envolvendo-o, em vez disso, numa intriga de mentiras que culmina em morte, aquilo que precisamente desencadeara a sua partida para o campo, ou em “The New World”, em que a condição como que virginal das terras onde chegam os marinheiros parece encerrar augúrios de felicidade e abundância, que a acção do homem, por si só, se apressa contudo em contrariar, a natureza surgindo assim como um estado primitivo – a mãe de todas as coisas – que a presença do homem invariavelmente perturba, ou, antes, que reflecte aquilo de que ela mesma se compõe, pois, admitindo, como em “The Thin Red Line”, a guerra como parte integrante dos fenómenos ocorridos na natureza, a aceitando-a como indispensável para manter a ordem estabelecida das coisas, onde a luta pela sobrevivência ocupa um dos primeiros lugares – senão mesmo o primeiro, juntamente com a conservação da espécie – e a morte surge como condição necessária para a vida, para a regeneração, rejeita-se a concepção de Rousseau segundo a qual a bondade, inerente à condição humana, é corrompida pela vida em sociedade. O homem aparece, então, como manifestação última, como voz, da natureza, e a sua busca pela recuperação dos laços que a ela o unem revela-lhe uma certeza apenas – a existência inegável do caos –, a aceitação dela revelando-se a maior aprendizagem que as personagens podem colher dessa busca.
A propósito de Malick utilizam-se muitas vezes os adjectivos “lírico” ou “poético”, e se tal se deve, sem dúvida, à forma particular com que ele filma a paisagem, tal descrição decorrerá também do recurso à metáfora como figura de estilo por excelência na construção do sentido. Lembremo-nos, por exemplo, do momento em que um dinossauro ataca outro, já caído, mas que não chega a matar, em “The Tree of Life”, e como esse gesto materializa a relação de poder e subordinação que o pai estabelece com os seus três filhos; ou os planos dos animais nas searas, em “Days Of Heaven”, como lembrança de que a recolha do trigo para garantir o alimento do homem representa igualmente a destruição de um habitat.
A metáfora está presente, de resto, nos muitos voice-overs que acompanham as suas obras, e que, nunca parecendo pleonásticos, acrescentam outras camadas àquilo que vemos, conferindo uma outra ambiência ao filme através do carácter quase sinfónico que reveste estes diálogos que as personagens, deslocadas do universo material, vão mantendo entre si, nestas momentâneas manifestações de consciência num plano dir-se-ia abstracto, o do pensamento.
E, claro, o amor. Poder-se-ia dizer que todas as histórias são histórias de amor, na medida em que testemunham essa entrega e esforço de perseverança que estão sempre implicadas na sua concepção, e em Malick não é diferente. Seria legítimo, porém, afirmar que é o amor aquilo que motiva as personagens nas suas acções? Provavelmente não será assim tão linear, mas, observando de perto, não é difícil perceber qual o lugar que tal sentimento ocupa na vida dos seus protagonistas – é o amor, afinal, que impele a personagem do Brad Pitt em “The Tree of Life” a submeter os filhos a uma educação tão rígida e intransigente, pois será isso que os conduzirá, a seu ver, ao caminho do bem (ele personificando, juntamente com a figura materna vivida por Jessica Chastain, essa dualidade entre a via da natureza e a via da graça que está na base da história); é o amor, também, que permite ao soldado interpretado por Ben Chaplin em “The Thin Red Line” enfrentar os pesadelos e os horrores da guerra, vivido sob a forma de uma correspondência que, antevendo um reencontro no futuro, torna suportável um presente de distância; e que é senão o amor que possibilita à Pocahontas do “The New World” enfrentar o desconhecido, pondo em causa a protecção que lhe garante a sua tribo, e alcançar depois a maturidade emocional com a experiência da maternidade? Em “Badlands”, no meio de toda a alienação em que as personagens principais gradualmente mergulham, parece, de igual forma, ser o amor que os une a sua única certeza.
Enfim, como se posiciona Malick em relação a tudo isto? Antes de tentar impor ideologias, questiona-se. Contempla. Sabe que o julgamento é inimigo de todo o retrato do ser humano que se queira fidedigno e, por isso, observa. Não pode fazer mais do que exteriorizar as suas dúvidas e, assim, tentar dissipá-las para si; quanto a nós, é através da sua dúvidas que nos permitimos duvidar, e esse será porventura o primeiro passo do caminho para o qual a sua filmografia nos aponta, um caminho em que a dúvida é condição indispensável e a ausência de certezas absolutas uma realidade inevitável – e não é esse, em suma, o caminho da vida?
Rúben Gonçalves