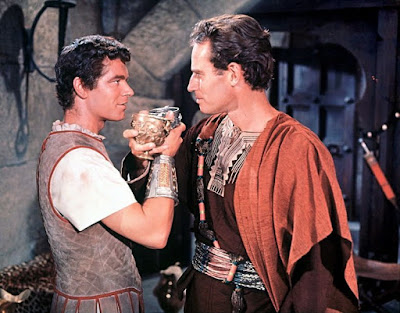Acompanhamo-lo como uma lenda viva e conhecemos o seu universo de fio a pavio. Mas com o tempo “ficou mais austero – quase japonês”, garante António Banderas. Ele é Pedro Almodóvar, que se revela com A Pele Que Habito, [que estreou no mês passado] entre nós. Este artigo foi publicado originalmente na revista Premiere (n.º 38 / Novembro 2011).
Quando a última edição do Festival de Cannes projectou e aplaudiu o thriller dramático A Pele Que Habito, sobre um cirurgião plástico que procura vingar-se da violação da filha, pairou a sensação de que o abandono do pastiche não era inesperado ou acidental (há dois anos, o melodrama com toques de noir Abraços Desfeitos fazia já pressentir uma viragem de retórica narrativa). No entanto, ao regressar, pela quinta vez, à secção competitiva do festival, Pedro Almodóvar admitiu, em conferência de imprensa, que, apesar da sua “vontade de aceder a outros géneros cinematográficos”, pensa que regressará ao género que o celebrizou em redor do mundo – a comédia pop.
Tal como escreveu
Thomas Sotinel, crítico de cinema do
Le Monde, a relação dos franceses com o realizador foi sempre curiosa. Grande parte do público e da crítica viram-no como um pequeno fenómeno latino até 1988, ano em que estreia
Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos. Ainda três anos antes, Almodóvar criticara publicamente os programadores de Cannes de ignorarem o cinema espanhol. Contudo, esta comédia “nervosa” tornou-se no seu primeiro grande êxito de bilheteira. Em França, foi vista por cerca de 600 mil espectadores e, nos EUA, acumulou uma receita bruta de 7 milhões de dólares (aproximadamente 5 milhões de euros, o que equivale nada mais, nada menos que 10 vezes mais do orçamento com que o filme foi produzido). Foi também com esse filme que Pedro Almodóvar viu, pela primeira vez, uma obra da sua autoria ser nomeada para o Óscar de melhor filme estrangeiro (nesse ano, foi levado pelo dinamarquês
Pelle, O Conquistador, de
Bille August). Mais tarde, em 1999, Cannes render-se-ia por fim ao fenómeno
almodóvariano, colocando
Tudo sobre a minha Mãe em competição. Apesar do prémio para melhor realizador, Almodóvar não se contentou por não levado a Palma de Ouro (que galardoou os
irmãos Dardenne com a sua
Rosetta) e, para além de ter acusado
David Cronenberg, então júri da competição oficial, de inveja (como recorda Thomas Sotinel em
Masters of Cinema – Pedro Almodóvar), impediu que
Fala com Ela (Óscar para melhor argumento) fosse seleccionado para a edição de 2002 do festival.
Em vésperas do final do século XX, quando Cannes viu, pela primeira vez, um filme de Almodóvar, na verdade encontrava no ecrã uma síntese amadurecida do que havia sido o seu cinema até então. A crítica de cinema do
LA Weekly Ella Taylor chegou a escrever, para o livro
1001 Filmes para ver antes de morrer, que
Tudo sobre a Minha Mãe contém, não obstante o seu “tom mais contemplativo, sombrio e tranquilo” característico de obras como
A Flor do meu Segredo (1995) e
Fala com Ela, “sequências repletas de honestidade e balbúrdia à semelhança das obras iniciais do realizador” e uma “definição elástica de feminilidade proposta por Almodóvar e pelo seu espírito conciliador”.

Efectivamente, a ligação entre a mulher como protagonista e Pedro Almodóvar parece ser indissociável (salvo raras excepções, como é o caso deste mais recente A Pele Que Habito, a ter, entre nós, antestreia na [passada] edição do Lisbon & Estoril Film Festival e estreia comercial [no] dia 17 de Novembro), desde logo na sua infância. Nascido em princípios dos anos 50 (não se conhece o ano exacto), em plena época de ditadura franquista e de opressão social e cultural (exibiam-se produções de Hollywood e, quando espanholas, eram sentimentalistas), Pedro foi o terceiro filho de António Almodóvar, um condutor de carroças, e de Francesca Caballero. Segundo o realizador revelou no dia depois da sua morte, em 1999, a mãe criara, tal e qual a longa-metragem Central do Brasil de Walter Salles (lançada um ano antes), um negócio que envolvia o processo de leitura e escrita de cartas (experiência que marcaria o cinema de Almodóvar que, de acordo com as suas palavras, lhe mostrou “como a realidade precisa da ficção para ser completa, mais agradável e tolerável”). Em Fevereiro de 1989, Carmen Maura, uma das actrizes que mais colaborou com o autor espanhol, revelou, numa entrevista publicada no Le Monde, que “o segredo de Pedro é a sua mãe”, uma “mulher trabalhadora” e humilde que “nunca quis ver os filmes do filho”, apesar de “se contentar com os prémios que vence e traz para ela”, tendo-os colocado na parede ou em cima da lareira.
Este lado modesto da mãe, fortalecido por uma afectividade eminentemente latina com a qual o cineasta conviveu durante os primeiros anos de vida, poderá estar, eventualmente, na origem da sua forma de olhar a mulher contemporânea desde as primeiras e subversivas curtas-metragens que filmou com uma câmara
Super 8, mesmo antes da queda do regime. A criação dos objectos fílmicos, cuja narrativa, baixíssimo orçamento e utilização de recursos denunciavam o seu amadorismo inerente, decorreu numa altura em que Pedro Almodóvar tinha acabado de deixar a família e passado a viver em Madrid onde era reconhecido como
hippie (participava como figurante em filmes, vendia bugigangas
flower power na rua, usava o cabelo comprido e convivia com um círculo íntimo de amigos composto por toxicodependentes e fãs de David Bowie). Viviam-se então os tempos fulgurantes da Movida, um entusiasmado movimento contracultura, liberal e
underground que, para além de ter coincidido com a morte de Franco em 1975 e com a subida ao poder do socialismo na capital, confirmou Pedro Almodóvar como um dos seus protagonistas. Após se ter estreado, em 1978, nas longas-metragens, com
Folle… Folle… Fólleme Tim!, Pedro Almodóvar deixou, dois anos depois, o amadorismo de parte e lançou-se para uma produção com maior organização e orçamento, cujo título
Pepi, Luci, Bom e Outras Tipas do Grupo descortinava o núcleo principal de personagens femininas (e
feministas) da narrativa. Curiosamente, o realizador resumiu o filme (enquadrado fora de competição no festival de cinema de San Sebastián) ao jornal espanhol
El País como um “policial”, uma “comédia sobre mulheres”, um “filme
pop” (por causa do seu “ritmo, superficialidade e luminosidade”) e um filme de Bergman e de Cukor, tudo ao mesmo tempo. A presença da mulher forte, superior e cáustica ficaria desde então reconhecida, até o dia de hoje, como uma distintiva dominante da sua obra – de tal modo que, em 2006, quando apresentou
Volver – Voltar no Festival de Cannes, viu todo o seu elenco constituído predominantemente por mulheres receber um prémio conjunto de melhor interpretação feminina.
Por sua vez, Volver – Voltar é um daqueles casos em que Pedro Almodóvar representa um dos seus temas mais queridos – o retorno às origens e ao passado. E, curiosamente, o autor reuniu-se aqui com grande parte das actrizes que dirigiu, colocando lado a lado aquelas que foram, com o tempo, apresentadas como as suas “musas”: Carmen Maura e Penélope Cruz. Nesta longa-metragem, o autor realiza um exercício de memória que relembra a sua mãe, a infância passada em La Mancha e as fortes imagens que lhe ficaram gravadas no pensamento nessa época (tomemos como exemplo o ritual da cena inicial, na qual um grupo de mulheres lavam, num cemitério, com fascinante energia, os jazigos dos familiares).

Também Má Educação (que abriu, fora da competição oficial, a edição de Cannes de 2004) se assumiu como uma representação do passado autobiográfico de Pedro Almodóvar, ainda que numa esfera dramatúrgica completamente diferente. Regressando aos seus dez anos de idade (que foi, em boa verdade, o número de anos que precisou para escrever o guião), Almodóvar demonstrou como a sua adolescência foi assombrada pelo colégio religioso de Salesianos que frequentou. Tendo cantado a solo ao lado do coro de crianças (onde cantou uma versão da música napolitana Torna a Surriento, que é inclusive interpretada no filme, numa das cenas mais tensas), o então jovem Pedro testemunhou, com silencioso horror, casos de abuso sexual que foram denunciados em Má Educação.
Contrariando as expectativas dos habituais espectadores, o realizador e argumentista afastou aqui, por inteiro, a presença da mulher – mas não da feminilidade. De facto, esta característica inédita permitiu que Almodóvar, declaradamente gay, explorasse, com mais profundidade, o seu imaginário queer, o que acabou por se materializar na representação da descoberta sexual, do universo da prostituição homossexual e dos travestis e respectivos espectáculos, com o actor Gael García Bernal a vestir, como um camaleão, diferentes papéis. Em filmes anteriores, o autor havia já abordado a questão da sexualidade não-normativa, como foram os casos de Tudo sobre a minha Mãe e, sobretudo, A Lei do Desejo (de 1987), filme inclusivamente anterior à vaga de produções que, em inícios dos anos 90, colocou em vários festivais de primeiro plano títulos que tratassem esta temática.
A par da descoberta da sexualidade, Má Educação apresenta, de igual forma, a descoberta do cinema (como ocorreu com o realizador nos anos 60), colando-se a ele ao ponto de o tornar parte da narrativa (de certa maneira, estamos diante de um caso de um filme dentro de outro filme). No que toca às referências, Pedro Almodóvar nunca guardou segredos, confessando a sua admiração pelo visual de Rainer Werner Fassbinder, o lado absurdo, anticlerical e transgressor de Luis Buñuel e o burlesco de Federico Fellini. Para além do mais, será impossível deixar de reconhecer na sofisticação melodramática dos filmes do espanhol a influência decisiva que teve o cinema moderno de Alfred Hitchcock e a obra de Andy Warhol. Para verificarmos a sua inspiração basta, apenas, que atentemos nas cores agressivas, quentes e “espanholas” dos cenários e do guarda-roupa, e na direcção artística luminosamente kitsch e pop.
António Banderas, personagem principal de
A Pele Que Habito, garantiu numa entrevista à agência de notícia
Reuters que Almodóvar “amadureceu como realizador e como pessoa”, tendo ficado “mais austero - quase japonês”. Hoje preparámo-nos, sem receios, para descobrir a nova pele que habita o autor e que elevou, depois de
Carlos Saura, o cinema espanhol a outro patamar. E continuaremos a acompanhá-lo como uma lenda, cuja vida e obra parecem ainda ter muito que nos dar a ver.
Uma obra entre colaborações
“Voltar a trabalhar com o Pedro foi como regressar às minhas raízes. Foi ele que fez a minha educação artística”, confessou
António Banderas na conferência de imprensa de
A Pele Que Habito na mais recente edição do Festival de Cannes. Com esta longa-metragem, o casamento profissional entre os dois foi realizado pela quinta vez, após se terem encontrado na última metade dos anos 80 em
Matador (1986),
A Lei do Desejo (1987),
Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos (1988) e
Ata-me! (1990). Mas esta é apenas uma das muitas colaborações que podemos assinalar no cinema de Pedro Almodóvar. Vem-nos à memória uma das mais antigas – entre ele e o próprio irmão
Agustín, com quem fundou em 1985 a produtora
El Deseo, que viria desde então a produzir todos os seus filmes. Logo depois, como uma inevitabilidade, a actriz-fetiche
Carmen Maura, que participou em
Folle… Folle… Fólleme Tim! (1985),
Pepi, Luci, Bom e Outras Tipas do Grupo (1980),
Negros Hábitos (1983),
Que Fiz Eu Para Merecer Isto? (1984),
Matador, A Lei do Desejo, Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos e, após uma misteriosa separação que perdurou por 17 anos,
Volver – Voltar (2006). Por sua vez,
Penélope Cruz, a sua “musa” mais recente, estreou-se na sua obra com
Em Carne Viva (1997), tendo trabalhado ainda em
Tudo Sobre a Minha Mãe (1999),
Volver – Voltar e em
Abraços Desfeitos (2009). Podemos ainda apontar nomes como
Cecilia Roth (
Pepi, Luci, Bom e Outras Tipas do Grupo,
Labirinto de Paixão, de 1982,
Negros Hábitos,
Que Fiz Eu Para Merecer Isto?,
Tudo Sobre a Minha Mãe e um papel de figurante em Fala com Ela, de 2002),
Chus Lampreave (
Negros Hábitos, Que Fiz Eu Para Merecer Isto?,
Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos,
A Flor do meu Segredo, de 1995,
Fala com Ela, Volver – Voltar e
Abraços Desfeitos) e
Marisa Paredes (
Negros Hábitos,
Saltos Altos, de 1991,
A Flor do meu Segredo,
Tudo Sobre a Minha Mãe, um papel de figurante em
Fala com Ela e, mais recentemente, uma colaboração em
A Pele Que Habito). Também
Blanca Portillo, Lola Dueñas e
Lluís Homar são nomes que encontram alguma presença na obra de Pedro Almodóvar.